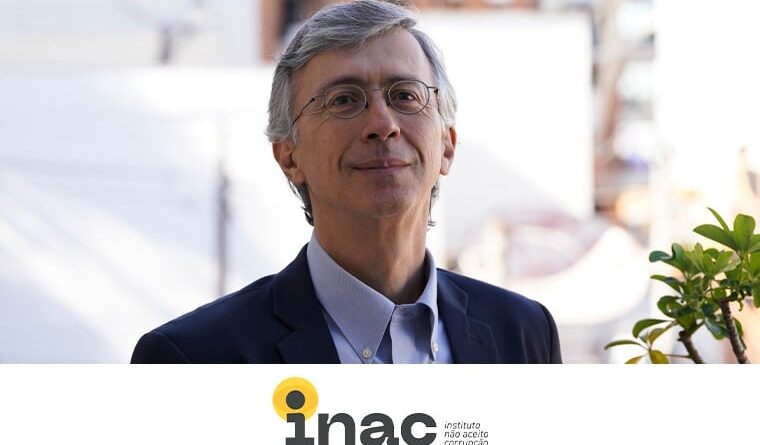Princípio da impessoalidade (parte II)
Na sequência do primeiro artigo que recentemente publiquei neste blog, com o tema da “impessoalidade”, retomo essas reflexões a partir do ponto em que havia parado.
Havia então desenvolvido, resumidamente, o sentido “formal” da legalidade, como expressão do valor da liberdade. Essa noção, aplicada às pessoas estatais, implica concluir que, na ausência de norma jurídica, não há “liberdade” de ação estatal, simplesmente porque não existe vontade a ele atribuível. Esse o sentido da legalidade dita “estrita”, que rege a ação do Estado – e que, na Constituição brasileira, corresponde ao princípio da legalidade a que se refere o caput do art. 37.
No entanto, visto o sentido “formal” de legalidade, passemos a analisar seu sentido “material”, que é justamente o que permite fazer a conexão mais direta de sentido com o princípio da impessoalidade, objeto desta breve série de artigos.
O sentido material de legalidade remete à noção de lei enquanto suporte de norma geral e abstrata.
O sentido material de legalidade é o que traduz juridicamente de modo mais imediato o valor da igualdade, resultando na noção de impessoalidade.
Em termos de referências clássicas do constitucionalismo contemporâneo, a essência dessa ideia está na segunda parte do art. 6º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789:
“Art. 6º […] Ela [a lei] deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos seus talentos.”
Seu significado resta claro, por exemplo, na seguinte passagem da autoria do célebre jurista Léon DUGUIT:
“Do ponto de vista material o princípio de legalidade consiste nisto: em um Estado de direito, nenhuma autoridade pode jamais tomar uma decisão individual, senão nos limites fixados por uma disposição de caráter geral, quer dizer, por uma lei no sentido material.”
É o mesmo DUGUIT que esclarece:
“Compreendeu-se que os detentores do poder político não deviam poder tomar arbitrariamente tal ou qual decisão individual, em face de tal ou qual situação determinada; que eles estavam vinculados pela regra geral formulada de maneira abstrata sem consideração nem de espécie, nem de pessoa, e não podiam tomar decisão individual senão de modo conforme à regra geral contida na lei. Desde o momento em que esse regime foi compreendido e aplicado, o indivíduo se sentiu fortemente protegido contra o poder absoluto dos governantes; pois é evidente que essa regra geral e abstrata que limita sua ação apresenta muito menos perigo de arbitrariedade que uma decisão individual, que pode sempre ser provocada pela raiva, pela ambição ou pela vingança”.
A essência da impessoalidade, portanto, está no fato de o tratamento dado pelos agentes estatais aos casos individuais e concretos estar fundamentado numa decisão anterior geral e abstrata.
O que se acaba de dizer tem especial importância em matéria do exercício de função administrativa, eis que por excelência é um âmbito da ação estatal que lida com decisões individuais e concretas, sob a forma de atos administrativos.
Com essa observação, não se nega que, no exercício de função administrativa, possam ser praticados atos normativos gerais e abstratos. Nem que atos formalmente legislativos possam ter conteúdo individual e concreto. Apenas aponta-se a tendência que se verifica com maior ênfase.
Aliás, a distinção entre lei material e atos jurídicos em sentido estrito (em que se incluem os administrativos) não deixa de ser uma questão de grau, como bem lembra Hans KELSEN.
A partir das considerações sobre legalidade, expostas acima, pode-se concluir, no tocante à legalidade formal, que os atos administrativos em geral subordinam-se à lei formal. Essa ideia em regra é explicitada na análise do princípio da legalidade.
Importa, entretanto, neste breve estudo sobre o princípio da impessoalidade, explorar as consequências, no âmbito do exercício da função administrativa, do que se vem de afirmar no que diz respeito à legalidade material.
Nesse sentido, há que se tratar de situação em que, na confrontação de dois atos normativos formalmente administrativos, sendo um geral e abstrato e outro individual e concreto, este há de subordinar-se àquele, o qual prevalece em razão de sua natureza materialmente legislativa, que traduz o valor da igualdade.
Caso não se atentasse para a dimensão material da legalidade, seria possível – ainda que equivocadamente, adiante-se – chegar ao raciocínio de que um ato administrativo individual e concreto, expedido posteriormente, pudesse excepcionar a regra posta de modo geral e abstrato por outro ato administrativo.
Seria exemplo desse raciocínio equivocado o argumento de que se um prefeito pode revogar um decreto que estabelece regras para expedição de licença para construir (ou seja, “pode o mais”), também pode excepcioná-lo num caso concreto (ou seja, “pode o menos”), expedindo uma licença em desacordo com o decreto.
Ocorre que não há relação de “mais” e “menos” nessa situação. Há sim uma quebra da impessoalidade. Se uma regra geral comporta exceções, elas devem estar previstas, numa formulação hipotética, na própria norma que estabelece a regra geral, de modo que sua concretização, em cada caso, corresponda ainda assim a uma aplicação da norma geral e abstrata. O que não se pode admitir é a criação, em cada caso concreto, por decisões individuais, de exceções não antecipadas pela regra posta pela via geral.
Não se quer sustentar que a norma geral e abstrata devesse prever hipóteses de exceções individuais e concretas; isso seria uma contradição em termos. Afirma-se, sim, que a norma geral e abstrata deve contemplar – sem abandonar o plano geral e abstrato – a possibilidade de haver exceções, com os seus delineamentos hipotéticos.
O assunto prosseguirá em outro artigo, com o desenvolvimento de alguns exemplos de aplicação dessa ideia.
Vivemos a era dos algoritmos, em que decisões automatizadas moldam desde o que consumimos até como recursos públicos são distribuídos. Inteligências artificiais já auxiliam na formulação de políticas, análise de riscos e entrega de serviços. No entanto, enquanto a tecnologia avança em ritmo exponencial, o Brasil ainda convive com uma carência estrutural básica: cerca de 100 milhões de pessoas sem acesso à coleta de esgoto e outras 30 milhões sem água tratada. Em meio ao discurso sobre inovação e ESG, esquecemos que a infraestrutura mais transformadora pode estar invisível, enterrada sob nossos pés. Como escreveu Mario Vargas Llosa, “o símbolo da civilização não é o livro, a internet ou a bomba atômica. É a privada”.
PUBLICIDADE
A universalização do saneamento é uma tarefa continental — e custosa. Estima-se que, até 2033, serão necessários mais de R$ 900 bilhões em investimentos para alcançar as metas do Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020). Esse volume não será possível apenas com recursos públicos. É aqui que entram as debêntures incentivadas: instrumentos de mercado que canalizam capital privado para projetos de infraestrutura, com benefícios fiscais como isenção de IR para pessoas físicas e alíquotas reduzidas para jurídicas.
Desde a criação da Lei nº 12.431/2011, e especialmente após o novo marco legal, as debêntures impulsionaram 52 projetos no setor, gerando um salto de 1.444% nas captações em relação ao período anterior. Só nos primeiros quatro meses de 2025, as emissões chegaram a R$ 55,2 bilhões — alta de 64% sobre 2024. Até maio, o volume acumulado era de R$ 62,5 bilhões, concentrado em infraestrutura, com destaque para transporte, energia e saneamento. Isso demonstra o protagonismo desse mecanismo na viabilização de projetos estruturantes.
O setor de saneamento, em particular, depende dessas estruturas para garantir previsibilidade e atratividade aos investidores. Dados da ABCON-Sindcon revelam que 45% dos 58 leilões realizados desde 2020 foram viabilizados por debêntures incentivadas. Tais projetos demandam prazos longos (de 15 a 30 a anos normalmente), segurança jurídica e estabilidade regulatória — elementos que as debêntures ofereciam até a recente Medida Provisória nº 1.303/2025.
Publicada em 11 de junho, a MP propõe a revogação dos incentivos fiscais para novas emissões a partir de 2026. As mudanças incluem a cobrança de 5% de IR para pessoas físicas e elevação da CSLL de 15% para 25% para pessoas jurídicas. Tal medida quebra a previsibilidade do modelo vigente e reduz a atratividade dos títulos, sobretudo em um cenário de juros elevados, instabilidade geopolítica e competição global por capital.
Publicidade
O provável efeito da mudança é um desestímulo dos investimentos privados em infraestrutura. A instabilidade regulatória gerada pela proposta de revogação dos incentivos pode levar gestores de fundos a reavaliar suas estratégias. Essa reação do mercado evidencia como mudanças abruptas nas regras podem comprometer a confiança de longo prazo e desestruturar instrumentos que vinham produzindo resultados concretos.
O argumento fiscal que embasa a MP parece míope diante do retorno social das debêntures. Segundo estudos da OMS e do Instituto Trata Brasil, cada R$ 1 investido em saneamento gera entre R$ 4 e R$ 11 em benefícios sociais — como redução de doenças, aumento de produtividade e valorização imobiliária. Mesmo com o crescimento nas emissões, os títulos representam apenas 7% da necessidade total de investimento até 2033. Cortar essa fonte é cortar o fluxo de saúde, educação e desenvolvimento.
Além disso, há uma questão moral e institucional. A previsibilidade é um ativo tão valioso quanto os recursos financeiros. Mudar as regras no meio do jogo sinaliza que compromissos públicos podem ser revogados por conveniência fiscal. Isso afeta não apenas os atuais projetos, mas o futuro do investimento em setores estratégicos, como agroindústria, logística, energia e serviços públicos.
Em um país onde mais de 47 mil pessoas morrem anualmente por causas associadas à falta de saneamento, reduzir investimentos no setor não é uma medida técnica — é um retrocesso com implicações econômicas, sociais e ambientais. O saneamento básico é a base silenciosa da saúde pública, da valorização urbana e da equidade social. Mais do que tubos e estações, trata-se de infraestrutura que pode ser compartilhada com redes de fibra óptica, sensores ambientais e sistemas inteligentes de drenagem, conectando o desenvolvimento urbano à inclusão digital e à sustentabilidade. O setor, além disso, vive uma evolução positiva na sua matriz de riscos.
Com mais de R$ 21 bilhões em investimentos previstos nos próximos leilões, o setor de saneamento desponta como uma das maiores oportunidades em infraestrutura no país — não apenas pelo impacto social, mas pelo seu potencial de atrair capital privado em larga escala. Preservar os incentivos fiscais às debêntures incentivadas é manter ativa uma engrenagem que combina previsibilidade regulatória, retorno econômico e benefício coletivo. Em um cenário fiscal restrito, no qual o próprio governo admite não ter recursos suficientes para suprir sozinho as necessidades do setor, desmobilizar essa fonte de financiamento é comprometer a viabilidade de projetos essenciais. O Brasil precisa seguir avançando, com seriedade e visão de futuro, para transformar o saneamento em uma plataforma de saúde, inclusão, tecnologia e desenvolvimento sustentável.
Publicidade
Este texto reflete única e exclusivamente a opinião do(a) autor(a) e não representa a visão do Instituto Não Aceito Corrupção (Inac). Esta série é uma parceria entre o Blog do Fausto Macedo e o Instituto Não Aceito Corrupção. Os artigos têm publicação periódica