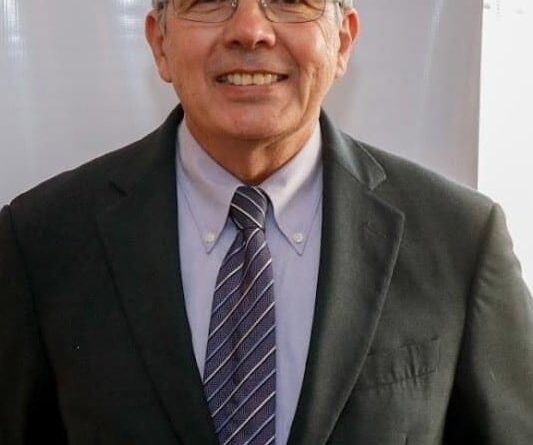Qual o crime de Eduardo Tagliaferro?
Eduardo Tagliaferro foi denunciado pela Procuradoria Geral da República perante o Supremo Tribunal Federal pela prática de violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de embaraço à apuração de infração penal que envolva organização criminosa.
A denúncia já foi recebida pela Excelsa Corte e Tagliaferro tornou-se réu em processo criminal. Anoto que nesta fase processual bastam meros indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade) para que a denúncia seja recebida, isto é, a dúvida se resolve em favor da sociedade. O que já não ocorre por ocasião da sentença em que a dúvida se resolve em favor do réu.
A conduta dele, basicamente, foi, como ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, ter vazado mensagens do grupo de WhatsApp da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação.
Tagliaferro refugiou-se na Itália, com medo de ser preso ou morto, e diz ter entregado à imprensa internacional um dossiê com o arquivo integral do que a imprensa convencionou chamar de “Vaza Toga”, para, segundo ele, serem levadas a conhecimento público ilegalidades ou irregularidades, que teriam sido cometidas naquele Órgão em investigações sobre os atos de 8 de janeiro.
Pretendo com este objetivo e sucinto artigo trazer especificidades técnicas destes tipos penais para que o leitor forme sua convicção de ter, ou não, Tagliaferro cometido estes delitos.
Não vou ingressar no mérito de ser, ou não, o STF o foro competente para julgar pessoa sem prerrogativa de foro, que, de acordo com nosso sistema constitucional, deveria ser julgada normalmente por um juiz de primeiro grau, com direito a diversos recursos, o que já não ocorre quando se é julgado ordinariamente na última instância.
E nem se há casos de impedimento e de suspeição de envolvidos no processo, tema que desenvolvo em outros artigos que se encontram na Rede, bastando pesquisar.
Primeiramente, no que consiste o crime de violação de sigilo funcional?
Dispõe o art. 325, caput, do Código Penal que:
Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação: Pena. Detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.
O delito é expressamente subsidiário, que somente será aplicado se não constituir crime mais grave, como o de espionagem (CP, art. 359-K) ou violação de sigilo militar (CPM, art. 326). Isso quer dizer que se a conduta cometida se enquadrar em outra norma penal que o puna mais severamente, ela será aplicada e não este tipo penal, que ficará absorvido por ser meio necessário para o seu cometimento e por expressa determinação legal (princípio da subsidiariedade expressa).
O objeto da tutela jurídica é a manutenção de segredos da Administração Pública, que não podem ser revelados.
Em todos os locais do globo existem fatos que são sigilosos e somente poucas pessoas podem deles tomar conhecimento. E obviamente o agente público que deles tem ciência não pode levá-los a público por serem sensíveis ao Estado em todos seus níveis, inclusive no âmbito do Poder Judiciário se houver a decretação de segredo de justiça (sigilo processual) ou estiverem ainda sendo apurados (fase investigatória).
Mas, como toda regra, há exceções.
Não havendo decretação de segredo de justiça no âmbito processual os fatos são públicos e podem ser revelados, exceto se forem sigilosos por determinação legal. Isso porque no âmbito processual a regra é a publicidade e o sigilo a exceção.
A publicidade dos atos processuais é princípio constitucional e está previsto em dois dispositivos:
(1) art. 5º, LX (“a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”);
(2) art. 93, IX (“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos […] podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”).
Trata-se do princípio da publicidade, mundialmente consagrado nas legislações de países democráticos (art. 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e art. 6º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem).
A fase judicial é pertinente à instrução do processo, em que as provas são colhidas sob o crivo do contraditório e há estrita obediência à ampla defesa (devido processo legal). Nessa fase, a regra é a publicidade dos atos processuais, de acordo com o disposto no art. 792 do CPP: “As audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos…”. Entretanto, esse mesmo artigo, em seu § 1º, determina que:
“se da publicação da audiência, da sessão ou do ato processual, puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz, o tribunal, câmara ou turma, poderá, de ofício ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes”.
Diante desse dispositivo, percebe-se que o próprio ordenamento processual penal já prevê hipóteses em que há necessidade do segredo de justiça em situações excepcionais.
Mas é a própria Constituição Federal que nos traz a exceção quanto ao princípio da publicidade dos atos processuais, no art. 5º, inc. LX: “A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”. Dessa forma, quando houver o início da ação penal com o recebimento da denúncia, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, determinar que o processo tramite em “segredo de justiça”, quando perceber pela prova produzida na fase de investigações que os fatos em apuração poderão trazer sério gravame à intimidade das pessoas que estiverem de algum modo (direta ou indiretamente) envolvidas, ou quando houver interesse social na manutenção em segredo desses fatos.
Há quem defenda que o sigilo deve ficar restrito apenas às sessões de julgamento, às audiências e aos atos processuais, em uma interpretação restritiva tomando-se por base o art. 792, § 1º, do CPP. Contudo, não entendemos dessa forma. A decretação do “segredo de justiça” tem por propósito a preservação da intimidade das pessoas ou a defesa de um interesse social. Assim, não há sentido manter em segredo apenas os atos processuais e tornar público o processo, uma vez que assim agindo os atos processuais protegidos também se tornarão públicos, quebrando o segredo de justiça.
O objetivo do “segredo de justiça” é impedir que o público em geral tenha acesso aos autos, para a preservação da intimidade das pessoas envolvidas no processo ou procedimento, e para proteger um interesse social, como o normal andamento do processo quando a divulgação das provas possa levar a uma sentença equivocada. Destarte, a tramitação do processo em “segredo de justiça” não fere nenhum direito constitucional, uma vez que a própria Constituição Federal e o Código de Processo Penal o permitem (art. 5º, inc. LX, e art. 792 do CPP).
Também não há cerceamento de defesa na decretação do “segredo de justiça” em processo judicial, uma vez que o sigilo é somente para o público em geral, não podendo ser oposto ao réu e a seu Defensor, que poderão ter acesso aos autos a fim de ser propiciada a mais ampla defesa. Ocorreria o cerceamento de defesa se não fosse permitido ao réu ou a seu Defensor o acesso aos autos do processo judicial, que não é o caso.
Se é certo que a publicidade é benéfica para o julgamento, também é correto que o excesso de publicidade pode influir negativamente nas investigações e na decisão da causa.
Já na investigação criminal (inquérito policial ou procedimento de investigação criminal) é o contrário. O sigilo é a regra e a publicidade a exceção para que sejam preservadas as investigações, que podem ser afetadas com o conhecimento público dos fatos.
Com efeito, as investigações devem ser efetuadas sob sigilo, para que possam ser bem-sucedidas. Também é exigido o sigilo a fim de que a pessoa investigada não seja exposta à execração pública, que infelizmente tem ocorrido em vários episódios noticiados pela imprensa.
Dessa forma, no inquérito policial, o que também se dá no procedimento de investigação criminal (PIC), o sigilo é a regra, como se depreende do art. 20 do CPP, que diz: “A autoridade assegurará no inquérito policial o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade”.
Portanto, em se tratando de investigação criminal em geral, a regra é o sigilo e a exceção, a publicidade. Já no processo judicial, a regra é a publicidade de todos os atos e a exceção, o sigilo, sendo que o “segredo de justiça” somente poderá ser decretado naqueles casos expressamente previstos em lei, quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem, e desde que a decisão seja devidamente fundamentada pelo Magistrado competente para a análise da causa.
Feitas essas considerações preliminares passemos a analisar os elementos constitutivos do tipo penal de violação de sigilo funcional.
O sujeito ativo, isto é, o autor do delito, somente poderá ser funcionário público (crime próprio), mesmo que aposentado ou posto em disponibilidade, uma vez que ainda vinculado à administração. É possível o concurso de pessoas com fundamento no art. 30 do Código Penal. Assim, se terceira pessoa, sabendo da condição de funcionário público do autor, concorrer de qualquer forma para a prática do delito, será coautor ou partícipe dele (art. 29 do CP).
Como se trata de crime próprio, o particular (não agente público), que revelar o conteúdo de documento sigiloso que chegou a seu conhecimento, não praticará este crime, exceção feita se houver de alguma forma concorrido para o delito do autor (funcionário público), como quando o encoraja a revelar fatos sigilosos ou lhe presta auxílio material ou moral para assim proceder, respondendo nesta hipótese em concurso de pessoas (coautor ou partícipe).
Assim, v.g., se um jornalista recebe documentação sigilosa de funcionário público e a publica, sem ter de algum modo ajudado ou influído no ânimo do autor do crime, não terá praticado a infração penal em comento, sendo o fato atípico. Por outro lado, o funcionário público será responsabilizado pelo crime por ter revelado o fato sigiloso para o jornalista.
Este delito atinge diretamente o Estado em qualquer dos seus Poderes, que será o sujeito passivo (vítima).
Duas são as condutas típicas que podem ser cometidas pelo autor do delito:
- revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo;
- facilitar-lhe a revelação.
A primeira conduta é revelar, que significa dar conhecimento ou transmitir o segredo a uma única pessoa que seja. Essa conduta, que é comissiva, pode dar-se por qualquer meio (escrito, verbal etc.). É a chamada revelação direta.
Não haverá o delito se a pessoa a qual o segredo foi revelado já o conhecia ou se não existia mais o segredo. Com efeito, se os fatos sigilosos já forem de conhecimento público, como quando são divulgados pela imprensa, não haverá o delito por não existir mais o segredo. Nesse caso, como o bem jurídico já foi lesionado pela anterior revelação do segredo, não há mais o que lesionar.
A segunda conduta é facilitar a revelação do segredo. Nesta, o agente concorre com a própria conduta pessoal para que o segredo seja revelado. Pode dar-se por ação ou omissão. É a hipótese do agente que dolosamente deixa aberto um cofre que contém um documento sigiloso para que alguém o conheça. É a chamada revelação indireta.
O objeto material é o segredo. Este é o fato que não pode ser revelado e que deva ser mantido em sigilo, embora de conhecimento de um número limitado de pessoas. A classificação do fato como sigiloso ou a decretação do sigilo em procedimento deve preceder à sua revelação. Assim, se por ocasião da revelação o fato não era sigiloso e só posteriormente o foi decretado como tal, não advirá infração penal.
Em ambas as condutas, é indispensável que o agente tenha conhecimento do segredo em razão do cargo, ou seja, das funções que desempenha perante a administração pública. Caso tenha tomado conhecimento do segredo por outro meio, que não o cargo ocupado, não haverá este delito. Dessa forma, por exemplo, em inquérito policial os funcionários públicos que nele oficiam são obrigados a não revelarem os fatos investigados e as provas produzidas, sob pena de incorrerem no delito.
Caso um funcionário público tenha conhecimento do segredo, mas não em razão das funções desempenhadas, e o revele, não terá cometido este delito, que pressupõe relação causal entre o cargo e o segredo. Por isso, cometerá este delito, na hipótese de inquérito policial (cujo sigilo é a regra), v.g, o delegado de polícia, investigador ou escrivão que revelar fatos dele constantes para terceiro. Mas este último (terceiro), mesmo funcionário público, mas sem relação com o inquérito policial, que o revelar para outra pessoa, não será autor deste delito. Só aquele que tem obrigação legal de preservar o segredo é que pode ser autor da infração penal em comento; por isso, o crime é considerado próprio.
Lembro, como já visto, pode haver concurso de pessoas com terceiro que de qualquer forma concorrer para o crime juntamente com o autor (funcionário público), tendo conhecimento desta condição pessoal. É o caso, p.ex., do particular que induz à divulgação de fato pelo agente público que oficia em um processo administrativo, que corre em sigilo devidamente decretado pela autoridade competente.
O segredo deve interessar para a administração pública e ser de fato relevante para o Estado (em sentido amplo), cuja divulgação possa causar dano para ela.
Por outro lado, se a revelação do segredo se der em razão de um interesse maior, observado o princípio da proporcionalidade, não haverá o delito. É o caso do funcionário que revela o segredo a fim de que um crime grave ou sérias ilegalidades ou irregularidades possam ser apuradas. De tal sorte, sopesando os valores em conflito, deve preponderar o de maior valia, qual seja, o de apuração do delito para a proteção de um bem jurídico penal ou de outros fatos graves, que podem causar ou terem causado sérios prejuízos às pessoas.
O princípio da proporcionalidade desdobra-se em três subprincípios: o da necessidade ou exigibilidade, o da adequação e o da proporcionalidade em sentido estrito. O meio a ser empregado será necessário quando não houver outro menos lesivo a direitos fundamentais. Será adequado quando com seu auxílio é possível a obtenção do resultado almejado. Por fim, com a ponderação dos valores em confronto e havendo adequação e exigibilidade dos meios a serem empregados, será possível o sacrifício de um direito ou garantia constitucional em prol de outro de igual ou superior valia.
Pelo princípio da proporcionalidade, as normas constitucionais estão articuladas em um sistema. Há valores constitucionais que se sobrepõem a outros em matéria de importância. O direito à vida é o mais importante e, mesmo assim, pode ser sacrificado em casos expressamente previstos em lei, como ocorre com a legítima defesa, o estado de necessidade etc. Ocorrem situações em que um direito deverá ser sacrificado em prol de outro de igual ou superior valia, dada a relatividade dos direitos e garantias constitucionais.
De acordo com o princípio da proporcionalidade, havendo conflito entre valores constitucionais, serão eles sopesados para verificar qual deverá preponderar no caso concreto.
Destarte, em nosso ordenamento jurídico nenhum direito ou garantia constitucional é absoluto. Assim, sempre será possível o sacrifício de um direito em prol de outro de igual ou superior valia, dada a relatividade dos direitos e garantias constitucionais.
Suponhamos, portanto, que um agente público envolvido em uma investigação constate que regras constitucionais ou processuais não estejam sendo observadas, ocorrendo sérias ilegalidades que podem configurar nulidades ou ilicitudes (a depender da hipótese), inclusive infração de natureza penal, civil ou administrativa, com evidente prejuízo para o investigado. Neste caso, não há como preponderar o interesse na produção da prova ilegalmente produzida sobre o interesse público e o da defesa do investigado de conhecer as ilegalidades, que podem demonstrar o direcionamento das investigações e da produção probatória, além de ilegalidades formais, que poderão resultar no arquivamento do procedimento investigatório ou na absolvição em caso de propositura da ação penal.
Ademais, em hipótese deste tipo não haverá antijuridicidade material (conduta que contraria os valores e interesses fundamentais do grupo social) em razão da revelação dos fatos, haja vista que a lei não pode encobrir práticas ilícitas de agentes públicos na produção probatória.
Com efeito, o funcionário público que levar estes fatos ao conhecimento da autoridade competente para que exista a devida apuração, não terá cometido ilícito por estar cumprindo estritamente o que a lei que determina (cf: art. 116, VI, da Lei nº 8.112/1990). Aliás, o funcionário público que deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, comete crime de prevaricação (art. 319 do CP), o que pode ocorrer se tiver conhecimento de alguma ilegalidade em investigação e não levar o fato ao conhecimento da autoridade com atribuição para a apurar.
Até aí a questão jurídica não é tão complicada, podendo ser resolvida facilmente de acordo com a dogmática e tecnicismo penal.
O que foi questionado é o endereçamento dos fatos à imprensa, que realmente não é o correto, pelo contrário.
O problema é que, segundo Tagliaferro, ele assim agiu por medo de ser preso ou até de ser morto, como por ele declarado nas redes sociais, o que nos leva a crer que não confiava nas autoridades com atribuição para a apuração dos fatos, tanto que saiu do país e se encontra residindo na Itália.
Nesta interessante hipótese, será discutido se era, ou não, exigível do agente público outra conduta para que os fatos fossem devidamente investigados e não se cometessem injustiças, como a condenação de inocentes.
Em situação deste tipo, para muitos, está presente a causa excludente da culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, aceita de forma pacífica pela jurisprudência como apta a isentar de responsabilidade penal aquele que por ela é alcançado.
E do que se trata esta controvertida causa de isenção de responsabilização penal e de aplicação de pena?
Cuida-se de causa supralegal de exclusão da culpabilidade, não estando, portanto, prevista no ordenamento jurídico.
Muitos doutrinadores defendem que ela se justifica pelo fato de não ser possível ao legislador prever todos os casos em que a culpabilidade possa ser afastada em razão de não ser exigível outra conduta.
Como a inexigibilidade de conduta diversa é um dos elementos da culpabilidade, excluindo-a, não haverá reprovação social e, com isso, não haverá crime para uns ou a aplicação de pena para outros, a depender da corrente adotada para a conceituação de crime (critério tripartido ou bipartido), que não vem ao caso aqui discorrer. No final das contas, a solução é a absolvição daquele que é beneficiado pela referida causa excludente da culpabilidade.
Concordo que esta causa de exclusão da culpabilidade é muito ampla e não está delimitada no ordenamento jurídico, podendo ser aplicada de forma equivocada sempre que o agente não possua defesa.
Contudo, em situações extraordinárias e especiais, ela cai como uma luva, podendo ser reconhecida judicialmente para que não sejam cometidas injustiças.
No crime em estudo, ocorrendo prejuízo para a Administração Pública ou para terceira pessoa, deve ser aplicado o § 2º do dispositivo e a pena será sensivelmente majorada, passando a ser de reclusão de dois a seis anos e multa.
Ressalto que, excluído este delito, todos os demais serão afastados, já que, em tese, haveria motivo justificado para o vazamento das informações para a imprensa e o endereçamento da documentação para organismos internacionais responsáveis por apurar violações de direitos humanos.
De qualquer modo, comentarei os demais delitos sempre de forma técnica e isenta, com o único objetivo de informar meus leitores sobre as especificidades dos tipos penais imputados a Tagliaferro.
Estudemos o crime descrito como abolição violenta do estado democrático de direito descrito no artigo 359-L, do Código Penal. Diz a norma penal:
“Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais: Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência”.
O verbo do tipo é tentar, isto é, realizar a conduta para que consiga a abolição do Estado Democrático de Direito, mesmo que não o consiga. A norma não exige que isso ocorra, mas que a ação seja voltada para esta finalidade.
A ação deve ter por propósito abolir o Estado Democrático de Direito, o que se dá mediante o impedimento ou a restrição do exercício dos poderes constitucionais, quais sejam, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, com o emprego de violência ou grave ameaça, que são os modos de execução do delito.
Note-se, assim, que a conduta praticada deve ao menos ter o potencial de produzir o resultado pretendido, embora possa não ocorrer, uma vez que o verbo do tipo é “tentar abolir”. Com isso, malgrado não ocorra a abolição do Estado Democrático de Direito, o que dar-se-ia, em regra, com golpe de estado ou revolução e a imposição de um regime totalitário, é exigido pela norma que um dos Poderes da República seja impedido ou ao menos tenha restringido o regular exercício de suas atribuições ou jurisdição.
Além do mais, para a adequação típica, deve ter havido violência à pessoa ou grave ameaça e que a conduta tivesse o potencial de colocar em risco o Estado Democrático de Direito, sendo essa a intenção do agente.
Meras bravatas ou simples ameaças, destemperos emocionais, patacoadas ou desabafos, que não tenham o condão de colocar em perigo a ordem constitucional vigente, podem até configurar crime contra a honra e ameaça, mas não contra o Estado Democrático de Direito.
Muito embora discutível, por se tratar de crime plurissubsistente, pode, em tese, ocorrer a tentativa, quando o sujeito, tendo como intenção a abolição do Estado Democrático de Direito, empregar a violência ou a grave ameaça e não conseguir impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais.
Outro delito que teria sido cometido por Tagliaferro é o de coação no curso do processo, elencado no art. 344 do Código Penal. Diz o dispositivo:
“Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral: Pena. Reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência”.
A conduta consiste em usar de violência ou grave ameaça contra autoridade (Juiz, Delegado de Polícia etc.), parte (autor, réu, membro do Ministério Público etc.), ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou procedimento do juízo arbitral (testemunha, perito, vítima, jurado, escrivão etc.).
O verbo do tipo é usar, que significa empregar ou utilizar.
O modo de execução do delito é a violência à pessoa ou a grave ameaça endereçada à própria vítima (ameaça direta) ou a pessoa a ela ligada por laços familiares ou de afeição (ameaça indireta).
A finalidade do agente ao empregar esses modos de execução deve ser o favorecimento de interesse próprio ou alheio relacionado com processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou procedimento do juízo arbitral.
Assim, para que ocorra este delito, deve haver processo ou procedimento em curso, inclusive inquérito policial, e a intenção do agente ao empregar a violência à pessoa ou a grave ameaça é a de favorecer a si ou a terceiro nos referidos feitos (processo ou procedimento).
Como já dito, bravatas ou simples ameaças, destemperos emocionais, desabafos ou patacoadas, que não tenham a finalidade de atrapalhar as investigações ou a produção da prova, influir na decisão do magistrado ou no ânimo de testemunha ou de parte em processo judicial de qualquer ordem ou procedimento, podem caracterizar o delito de ameaça ou contra a honra, mas não o de coação no curso do processo.
Para que ocorra tanto o delito de abolição violenta do Estado Democrático quanto o de coação no curso do processo deve ter havido violência ou grave ameaça. E elas ocorreram?
Vamos analisar o que seja cada uma delas.
A ameaça é integrante de vários tipos penais, funcionando ora como elementar, ora como circunstância, que agravará a pena.
Ela poderá configurar crime em si mesmo (art. 147, do CP), mas, em regra, é modo de execução de um delito.
A ameaça consiste na revelação à vítima do propósito de lhe causar um mal grave, atual ou futuro, que só o agente terá como evitar. Essa promessa de mal pode ser da produção de dano ou de perigo, pouco importando qual deles seja prenunciado pelo agente.
Excepcionalmente, no que tange a crimes contra o Estado Democrático, a violência contra a coisa poderá constituir grave ameaça, notadamente quando alcança bens públicos de suma importância ou valiosos. É o caso de depredação de prédios públicos vitais para o Estado ou mesmo estações ou torres de distribuição de energia.
A indagação que se faz é a seguinte: ameaçar alguém de aplicar institutos legais para buscar sua punição, ou seja, a justiça, de acordo com o agente, caracteriza a grave ameaça elemento dos tipos penais de abolição violenta do Estado Democrático e coação no curso do processo?
Com o devido respeito, não me parece haver adequação típica nem para um ilícito e nem para o outro, pouco importando se os institutos jurídicos forem nacionais ou estrangeiros, desde que lícitos em seu país de origem.
Ora, dizer que vai requerer a instauração de investigação ou processar alguém por conta de um crime praticado de acordo com o entendimento do agente não caracteriza grave ameaça e muito menos injusta, pelo contrário, por estar o sujeito a buscar a realização da justiça segundo seu entendimento, seja no Brasil ou no exterior.
O que não se faz possível são ameaças injustas e ilegais, como de morte, sequestro, agressão e outras do gênero.
Notem que sequer me refiro à violência, que é a física contra a pessoa, que não é o caso por não ter sido sequer levantada ou questionada.
Além disso, no que é pertinente ao crime de abolição violenta do estado democrático, a ameaça deve ser, além de grave, injusta para a caracterização do crime, sem o que não haveria sentido. A ameaça justa, isto é, que esteja amparada no ordenamento jurídico, como um pedido de impeachment, não tem o condão de caracterizar a elementar do tipo penal em análise.
Do mesmo modo, para este crime, a conduta deve visar a abolição do estado democrático de direito, que ocorre com o impedimento do exercício de um dos Poderes Constitucionais. Assim, um ministro, mesmo que ameaçado, não representa todo o Poder Judiciário. Do contrário, bastaria que o réu ameaçasse um juiz de direito de primeiro grau, impedindo ou restringindo seu ofício, para caracterizar o crime de abolição violenta do estado democrático. A ameaça de um ministro pode caracterizar o crime de ameaça ou de coação no curso do processo, desde que presentes as demais elementares que serão analisadas, mas não de abolição violenta do estado democrático, posto que não estar-se-á impedindo ou restringindo o exercício de um dos Poderes da República, mas um ou mais julgamentos apenas, se o caso.
A interpretação, neste caso, deve ser restritiva, sob pena de serem processados todos aqueles que praticarem crime de coação no curso do processo contra um magistrado, impedindo ou restringindo sua atuação na Vara Criminal, notadamente se for Vara única de uma pequena comarca.
E tanto um ministro do STF quanto um magistrado de primeiro grau exercem a mesma judicatura e representam da mesma forma o Poder Judiciário, não sendo um mais importante do que o outro.
Diferente seria se fosse impedido ou restringido o funcionamento de toda Corte, como quando se ameaça explodir seu prédio físico, o que de fato leva à restrição ou mesmo o impedimento de seu funcionamento, com o intuito de abolir o Estado Democrático de Direito, mesmo que isso não ocorra, vez que basta a mera tentativa.
Quanto ao crime de coação no curso do processo, a finalidade do agente ao empregar esses modos de execução (violência física contra pessoa ou grave ameaça) deve ser o favorecimento de interesse próprio ou alheio relacionado com algum processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou procedimento do juízo arbitral em curso (elemento subjetivo do tipo).
Mesmo a grave ameaça de um mal justo pode caracterizar o delito. Isso pode ocorrer quando, por exemplo, o investigado pela prática de um crime ameaça o Delegado de Polícia responsável pela investigação de denunciá-lo à Corregedoria por ter atropelado uma pessoa, fato este realmente ocorrido, com o intuito de ser favorecido no inquérito policial. Note-se que essa notícia de crime (atropelamento) é justa, mas o propósito com que ela foi empregada é injusto, caracterizando-se a grave ameaça exigida pelo tipo penal do delito em questão.
Por outro lado, a simples declaração aberta e pública de que irá buscar todos os meios legais para punir uma ou outra pessoa por infrações cometidas, não me parece grave ameaça apta a caracterizar o crime de coação no curso do processo, notadamente sem que a finalidade, expressa ou implícita, seja a de favorecer a ele próprio ou terceira pessoa em processo criminal ou investigação policial em curso, visando, com isso, constranger e atemorizar o julgador ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir nestes feitos, como é o caso de membros do Ministério Público e policiais.
Dificilmente quem atua em órgãos da persecução penal não foi ameaçado de representação em sua corregedoria interna ou nacional ao atuar em um ou outro caso, no mais das vezes, de relevância. E isso nem de longe caracteriza a grave ameaça caracterizadora do crime de coação no curso do processo, mesmo que a intenção do sujeito fosse a de amedrontar o agente público oficiante no processo ou procedimento em curso.
E o mesmo raciocínio vale para o crime de abolição violenta do estado democrático.
Anoto que, para esse efeito, pouco importa se o pedido de providências (representação) é realizado no Brasil ou em outro país, mormente quando os instrumentos de controle interno são ineficazes ou mesmo inexistentes, não podendo tal proceder ser tido como grave ameaça, elementar exigida pelos dois tipos penais em estudo, mas de exercício de um direito, seja aqui (de petição) ou no exterior, segundo a legislação estrangeira.
Também se imputou a conduta de estar Tagliaferro a atrapalhar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Tal delito vem previsto no artigo da Lei 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, que define organização criminosa e cuida dos procedimentos para apuração das infrações penais a ela relacionadas. Diz o tipo penal: “§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa”.
Não me parece ter ocorrido este delito, pelas mesmas razões invocadas para os demais crimes imputados. Buscar, por meios legais, aqui ou no exterior, o sancionamento de agentes públicos no estrangeiro, não é crime. Do contrário, não seria possível acionar a Corte ou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e tampouco o Tribunal Penal Internacional, quando alguém entender haver infração a ser apurada e punida por esses organismos internacionais. Tal proceder não impede e nem embaraça eventual procedimento investigatório, que deve estar em tramitação e envolva organização criminosa.
Pretender a aplicação da lei, no Brasil ou no estrangeiro, não pode caracterizar embaraço e muito menos impedimento a nenhuma investigação, por se tratar de um direito de quem se acha injustiçado ou que vislumbre arbitrariedade ou abuso de poder. Além do direito constitucional de petição, qualquer pessoa pode noticiar à autoridade competente a ocorrência de uma infração penal, civil ou administrativa para que seja apurada e aplicadas as sanções respectivas. E no estrangeiro não é diferente, de acordo com a normatização local. Nunca o exercício de um direito pode caracterizar infração penal.
A situação jurídica é interessante e certamente trará diversos questionamentos sobre a legalidade do proceder de Tagliaferro, sobretudo por ter levado os fatos diretamente à imprensa europeia e não às autoridades brasileiras, que, segundo ele, não seriam confiáveis e não apurariam os fatos de forma correta.
Explicados os dispositivo, que cada um chegue à sua conclusão quanto ao cometimento dos delitos por Tagliaferro, que entende assim estar agindo para que fatos de suma gravidade sejam publicizados e, se o caso, apurados e eventuais culpados sancionados na forma da lei.