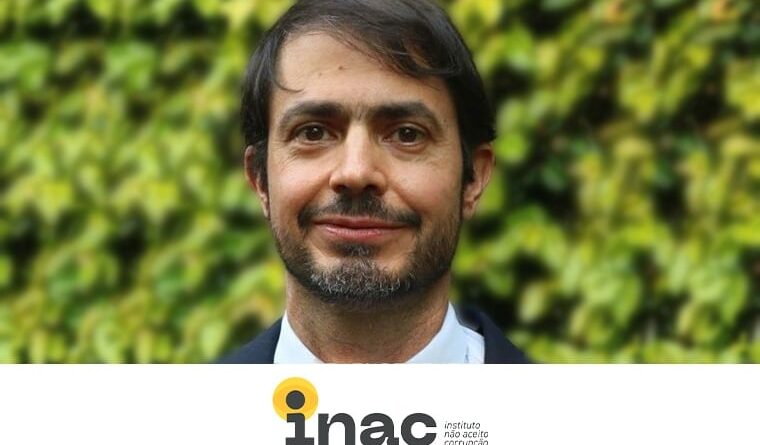Liberdade de expressão, limites e o Brasil entre EUA e União Europeia
A liberdade de expressão é um dos pilares da democracia moderna, mas seu alcance e limites variam de forma significativa entre sistemas jurídicos.
Nos Estados Unidos, a Primeira Emenda protege o discurso de maneira quase absoluta, vedando ao Congresso a edição de leis que restrinjam a expressão, mesmo quando se trata de discursos ofensivos ou falsos. A lógica ainda é a do “livre mercado de ideias”, como formulada pelo Ministro da Suprema Corte americana Holmes, em 1919, no caso Abrams v. United States: somente o embate de opiniões, e não a censura estatal, poderia aproximar a sociedade da verdade. Bom, 1919. Naquele contexto pós primeira guerra mundial e antes do crash da Bolsa de NY, assim como da Grande Depressão nos EUA e da segunda guerra mundial. Muita coisa mudou.
Já a Europa seguiu caminho diverso. As normas europeias consagram a liberdade de expressão, mas preveem limitações explícitas, num equilíbrio entre direitos fundamentais. Algo que parece significativamente diferente dos EUA, por exemplo, é o direito reconhecido na União Europeia de se receber informação. Não desinformação, não fake News, mas informação mesmo.
Proporcionalidade e competência compartilhada com os Estados membros da União Europeia vem permitindo que cortes europeias aceitem restrições ao que é alegado como liberdade de expressão em situações concretas, como no caso Delfi v. Estônia, em que um site foi responsabilizado por comentários ofensivos de leitores.
O contraste entre EUA e Europa vem se refletindo em pontos diversos na regulação das plataformas digitais. Nos EUA, a Seção 230 do Communications Decency Act de 1996 vem sendo interpretada como garantidora de imunidade ampla a plataformas (melhor simplificar por enquanto para o conceito de plataformas) por conteúdos de terceiros, ao mesmo tempo em que lhes concedeu espaço para moderação de conteúdo sob a chamada cláusula do “bom samaritano”. A Seção 230 do CDA é apontada como “as vinte e seis palavras que criaram a internet”, por viabilizar o crescimento das Big Techs sem o risco constante de litígios, naquele contexto da história de boom das dot.coms.
Na Europa, a Diretiva de E-Commerce de 2000, também no boom das dot.coms, adotou modelo semelhante de exclusão de responsabilidade, mas com exceções relevantes. Ao longo dos anos, a Corte de Justiça da União Europeia (já objeto de críticas por alegado ativismo) foi restringindo o alcance da imunidade, entendendo que Internet Service Providers (ISPs) que exercessem determinadas funções não poderiam alegar neutralidade. Como observa Oreste Pollicino, professor de Direito Constitucional da Universidade Bocconi na Itália, as plataformas deixaram de ser apenas atores econômicos, viraram poder.
Uma resposta na União Europeia aos riscos da era digital foi o Digital Services Act (DSA), em vigor desde 2024, que introduziu deveres de avaliação de riscos e mitigação para grandes plataformas, obrigando-as a avaliar anualmente riscos sistêmicos inclusive para a democracia, como desinformação.
Esse enfoque de compliance regulatório, baseado em avaliações de risco e mitigação, aproxima-se do que inclusive no Brasil já se consolidou na área anticorrupção desde os anos 2000. E é até irônico porque o modelo adotado no Brasil para compliance anticorrupção foi importado do mesmo país, EUA, que trata liberdade de expressão e plataformas digitais de forma tão peculiar.
No Brasil, a inércia do Legislativo expõe a democracia a soluções improvisadas.
Enquanto o Legislativo permanece inerte, coube ao Judiciário intervir em face da disseminação de desinformação e ataques institucionais. É o Judiciário quem, amparado pelo artigo 5º, XXXV, da Constituição, precisa decidir sobre o que lhe é levado, mesmo em matérias em que o debate democrático deveria ser travado no Parlamento.
Ao depender de ordens judiciais para conter abusos, o Brasil se torna refém de soluções que certamente não serão as melhores e são provisórias.
Vale lembrar que a suspensão de contas em redes sociais, decidida pelo Judiciário de tempos em tempos, poderia ser comparada como as medidas tomadas na Alemanha sob a lei NetzDG, que impõe a retirada de conteúdo de ódio em até 24 horas sob pena de multas milionárias, com amparo na legislação da própria União Europeia do qual a Alemanha faz parte. Mas, diferentemente da Alemanha, no Brasil as decisões de remoção de conteúdo e suspensão de contas são resultado de interpretação do Judiciário brasileiro com base em normas menos específicas do que a NetzDG.
O momento é crítico. Nas últimas semanas, a condenação da antiga cúpula do Executivo federal por crimes graves revelou o quanto os riscos à democracia ultrapassaram a esfera da corrupção e alcançaram a integridade da democracia. As redes sociais são hoje espaço central do debate político, mas também da manipulação em escala algorítmica.
O Brasil precisa decidir se continuará tratando a regulação das plataformas como um tema secundário, resolvido caso a caso pelo Judiciário com quem algumas das plataformas entram em embate direto, ou se o Legislativo brasileiro assumirá a tarefa de construir um marco regulatório próprio.
Entre censura e permissividade, o desafio que também é brasileiro é encontrar um equilíbrio que preserve a liberdade de expressão sem permitir que ela seja instrumentalizada para corroer a própria democracia.
Este texto reflete única e exclusivamente a opinião do(a) autor(a) e não representa a visão do Instituto Não Aceito Corrupção (Inac). Esta série é uma parceria entre o Blog do Fausto Macedo e o Instituto Não Aceito Corrupção. Os artigos têm publicação periódica.